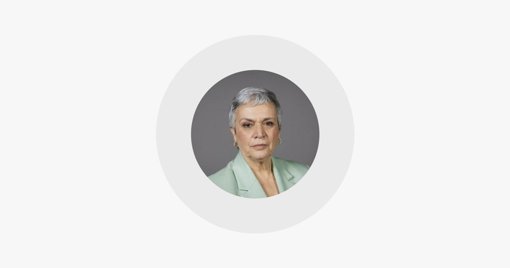A paralisação teve um impacto significativo em setores como os transportes, a educação e a saúde, gerando um intenso debate sobre a sua dimensão e legitimidade.
O Executivo, através do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro, desvalorizou a adesão, classificando-a como "inexpressiva" e mais concentrada na função pública, afirmando que "a esmagadora maioria do país está a trabalhar".
Em contrapartida, as centrais sindicais descreveram a greve como "histórica" e "uma das maiores de sempre", com a CGTP a estimar a participação de mais de três milhões de trabalhadores. A controvérsia em torno do pacote laboral reside em medidas como o regresso do banco de horas individual, a facilitação de despedimentos, a possibilidade de recurso a 'outsourcing' após despedimentos coletivos e alterações à contratação a prazo, que os sindicatos consideram um "ataque aos direitos dos trabalhadores".
A contestação tornou-se um tema central na campanha para as eleições presidenciais, com candidatos como António José Seguro a pedir a retirada da proposta e Catarina Martins a classificá-la como um "ataque a todas as gerações".
A pressão política intensificou-se com a mudança de posição de André Ventura, que ameaçou votar contra a lei no Parlamento se não existirem cedências, afirmando que "o Chega não está disponível para uma lei que seja um bar aberto de despedimentos". Este recuo do Chega, crucial para a aprovação de qualquer legislação do Governo minoritário, abriu um novo ciclo negocial, levando o Governo a agendar uma nova reunião com a UGT para a semana seguinte.